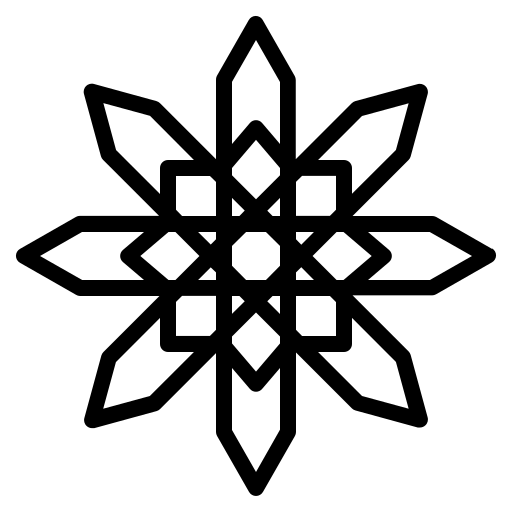por Dilson Siud
I.
Depois de tantos sonhos malucos, já não sabia mais se o barulho de mar era real ou não. Nada enxergava, sequer sabia se seus olhos estavam abertos. Lá fora, ao longe, a natureza exercia sua lenta e constante engenharia. A maré varria a areia insistentemente, alcançando as rochas e arrancando-lhes pedaços que o olho não via. Em não muito tempo, a pedra se dissolveria em grãos insignificantes.
Pôde perceber que fazia frio. Seria noite? O arrepio na pele e o silêncio reforçavam sua prognose. Ao passo que tentava entender o que se passava, pequenos sopros de dor aguda viajavam por seus ossos e músculos.
“Estou vivo”. – ele pensou, ainda sem conseguir se mexer ou balbuciar qualquer som que fosse.
Apesar da situação desesperadora, algo desconhecido o mantinha calmo. Enquanto vasculhava a mente por respostas ou lembranças, retornou ao sono quase que imperceptivelmente. Envolto pelo vasto véu de escuridão, sentiu as ondas silenciarem.
O toque suave da luz matinal o despertou com doçura. Ele abriu os olhos devagar e observou que a cerca de três metros de altura, em uma parede oposta ao leito que ocupava, havia uma janela. Não era possível identificar sua cor ou o material, mas as frestas de sua grade quadrada não deviam medir mais que cinco centímetros. Apenas luz invadia o cômodo, desenhando sobre a cama um xadrez de luz natural quase imperceptível. O céu estava cinza, parecia chuvoso.
Devagar, ele se pôs sentado entre os confortáveis lençóis. Os dedos passeavam na lisura da seda. Suas roupas haviam sumido; no lugar delas, uma calça de algodão branca e uma túnica da mesma cor, alcançando os joelhos.
“Mas que merda é essa?” – questionou, em voz baixa.
Já livre do torpor da noite, pôs-se de pé no chão frio e olhou em volta, embora a janela não fornecesse luz o suficiente para identificar o que mais havia no local.
– Alguém?! – gritou o rapaz.
Subitamente, ruídos assustados soaram na parede oposta, surpreendendo o rapaz.
– Você está aí? – perguntou uma voz feminina.
– Ei! Sim! Sim! Você… você também tá presa aqui? Que merda tá acontecendo? – perguntou ele.
– Você está bem? – perguntou a moça.
– É… acho que sim… – disse ele enquanto as pontadas da ressaca talhavam memórias em sua cabeça. Flashes de uma conversa estranha com uma mulher que lhe observou à distância em um bar durante mais de duas horas.
– Você podia estar morto… – disse a voz feminina.
– É! Pois podíamos os dois! – acrescentou ele.
Ela ficou em silêncio.
Ele revirou os olhos e sugeriu:
– Não é melhor a gente tentar sair daqui?
– Sim.
– Aquela janela é a única saída? – questionou ele.
Um estridente barulho metálico arranhou a sala. Foi possível notar que uma portinhola de metal se abriu próximo ao chão, na parede perpendicular às duas onde dispunham-se as camas. Rapidamente, um objeto grande e visivelmente pesado foi empurrado para dentro. A abertura se fechou antes que o rapaz conseguisse alcançá-la.
– Eeeei! Mas que porra! Tirem a gente daqui! – gritou ele, descobrindo a porta da cela e chutando-a com violência enquanto batia na divisória com os punhos cerrados.
– É inútil. – disse a voz feminina.
– Inútil o caralho! – esbravejou ele esmurrando a porta.
– Por que não olha o que é isso aí que passaram pra cá? – sugeriu ela, plena.
Sem dizer nada, ele deu razão à mulher escondida na penumbra.
Expressando desconfiança e tentando domar o furor, ele se ajoelhou próximo à caixa e percebeu tratar-se de uma espécie de cesta, cuidadosamente trançada em varas de salgueiro.
– É uma… cesta. – disse ele.
– Então abre! Vamos ver o quê tem dentro. – a mulher o incentivou.
Ainda inseguro, o homem respirou fundo, soltando o ar pela boca como quem protestava e removeu a tampa do compartimento com cuidado.
– Espera aí… tem… tem comida aqui. Tipo uma… cesta de café da manhã.
– Sério?! – exclamou sua interlocutora enigmática. Era possível ouvi-la se mexendo na cama.
– Sim. Tem pães, geleia, frutas… e isso parece bastante natural… e fresco. O pão está quente. – disse ele, revirando o interior da cesta, incrédulo.
– Me traga alguma coisa. Tenho fome!
– Sério que você tá pensando em comer? Visivelmente estamos em um cativeiro…
– Sim, estamos; e pode ser que fiquemos aqui um bom tempo. Portanto, eu preciso comer. Me traga alguma coisa.
Novamente concordando em silêncio, o rapaz abriu o pote de geleia, apanhou uma fatia de pão e espalhou a pasta de frutas sobre ela.
– Esse cheiro… isso é morango… com flor de sabugueiro! – exclamou ela.
– É o que parece. – disse ele, dirigindo-se até o leito da companheira de cela.
– Me lembra minha infância… meus avós e pais, quando ainda eram vivos…
O homem se aproximou da mulher. A baixíssima luminosidade do aposento lhe permitia ver apenas sua silhueta. Ele parou em frente à cama e estendeu as mãos, oferecendo-lhe o alimento com um certo descaso.
Lentamente, as mãos dela saíram da escuridão sobrepostas, formando uma concha; tão brancas que as pontas de seus longos e ossudos dedos gelados eram avermelhadas. As unhas compridas não tinham esmalte, apenas uma transparência natural. Seus punhos, visivelmente judiados e envoltos em tiras de pano, voltaram para dentro da escuridão quando tomaram o pão para si.
“Que coisa mais estranha…” – pensou ele, sentindo um fio de ansiedade descer pela garganta.
– Não vai comer? – perguntou ela, recolhendo-se na penumbra novamente para saborear a comida.
– Acho que… agora não. – disse ele, ainda meio assustado pelo o que acabara de ver, recuando até a sua cama e sentando nela pesadamente, mantendo-se em silêncio.
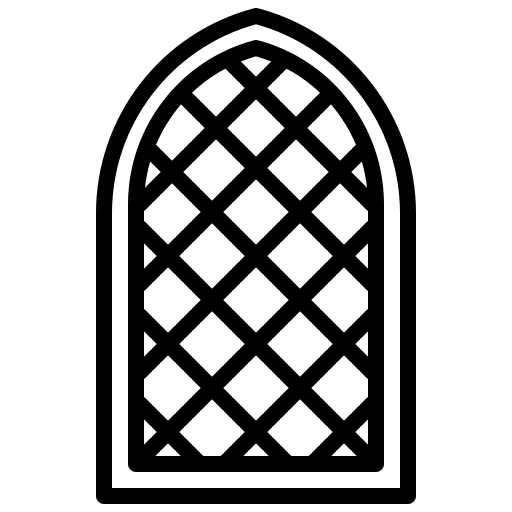
II.
– Você sabe onde estamos? – perguntou o rapaz, que se rendeu aos pequenos bolinhos de canela.
– Gotland. – respondeu ela, envolta na escuridão.
– Não muito longe de Hallshuk.
– Você é daqui?
– Nascida e criada. E você, é de onde?
– Do Brasil.
– Está longe de casa. O que procura em um lugar tão distante e pequeno? Tão… em branco e preto?
– Paz.
– Foge de alguém?
– De mim.
– É tão perigoso quanto quer fazer parecer?
– Eu não disse que fiz nada pra ninguém…
– Pra si mesmo. – ela interrompeu.
O rapaz pensou um pouco e respondeu:
– Talvez. Pra mim, para os outros… eu… só queria fugir. A vida não foi muito boa comig… ou melhor, eu não fui muito bom com a vida, não sei.
– O quê quer dizer?
– Eu sou o caçula de seis irmãos e… digamos que eu sou o único que não virou nada.
– Não entendo.
– Todos são advogados, médicos, militares…
– E você?
– Eu… eu era pintor. – sua voz emanava um misto de admiração e tristeza.
– Um artista. Nobre. O mundo acha que só precisa dos seus irmãos, entretanto não findaria um dia sem você.
– Pode até ser, para os que dão certo.
– E o que é dar certo?
– Ganhar dinheiro com isso, talvez? Não viver na casa dos pais até depois dos trinta?
– Suas obras o deixavam satisfeito?
– Bem, sim. Algumas.
– Então você pinta bem.
– Acho que sim, pintava. Era o que diziam, ao menos alguns. Consegui visibilidade em alguns meios, sabe? Chegaram a dizer que… – o rapaz fez uma pausa e seus olhos brilharam timidamente, como se revivesse momentos dos quais desejava nunca ter saído e demorou a prosseguir – eu era o novo Carl Larsson.
– Vocês artistas deveriam querer ser o primeiro de vocês mesmos, e não o próximo de alguém que já morreu.
– O quê?! Não… eu jamais seria melhor que…
– E quem foi que disse melhor? Eu disse diferente. Ele não vai deixar de existir se você for você. Experiências, personalidades… vidas… elas têm valor.
– Você não entende…
– Essa coroa que você quer ostentar julgando ser o bem mais precioso do mundo é feita de espinhos, Francisco.
– Olha… indiferente disso, eu desisti, tá bem? Não boto a mão em um pincel há pelo menos dois anos. Não quero mais saber disso, nem de nada que ficou no Brasil.
– E pra fugir do fantasma no qual transformou sua paixão, correu para a terra do seu maior ídolo. Consegue enganar pelo menos a si próprio?
O homem respirou fundo e levou as mãos ao rosto, querendo se esconder. A mulher prosseguiu:
– Para ser comparado ao Carl Larsson, no mínimo você é competente. Ele era conhecido por pintar cenas do cotidiano, ver beleza nas pequenas coisas. Aparentemente, você possuía a mesma sensibilidade. O mundo que você enxergava devia ser bom… uma já minúscula e cada vez mais minguante parcela da humanidade enxerga essas coisas, e menos gente ainda consegue expressá-las e materializá-las. Não precisava ter vindo pra cá.
– Bem, sim… – ele concordou, cabisbaixo.
– O problema não está em você. O mundo não te merece, mas nem por isso você deve desejar partir.
– E será que eu o mereço?
De repente, um estrondoso clique de metal pesado abriu a porta da cela. Em pé sob a soleira, haviam duas mulheres de semblante sério trajando similares vestidos pretos que cobriam seus corpos dos pés ao pescoço. Ambas loiras, uma delas ostentava um corte de cabelo curto, enquanto que a outra tinha seus fios lisos e longos amparados por uma faixa preta sobre a testa.
O rapaz as encarou tentando esconder o medo.
– Bom dia. – disse uma delas.
– Quem são vocês? – perguntou ele, se levantando.
– Eu sou Benedikta, e esta é Krista. Não tenha medo. – disse a mulher de cabelos curtos. Seu rosto era triangular e seus lábios finos. Os olhos estreitos intimidavam por baixo das finas e arqueadas sobrancelhas esbranquicadas.
– Onde é que eu estou? Que merda vocês fizeram comigo? Por que não me deixam sair?!
– Tenha calma, Francisco. Estamos aqui justamente para te levar para um lugar seguro.
– E você?! Não vai fazer nada?! – questionou ele à sua companheira de cela, virando-se para o canto de onde saía sua voz.
– Acalme-se, Francisco! Com quem está falando? – perguntou Krista. Seus olhos eram grande e brilhantes. Carregavam uma espécie de pesar ou preocupação. Seu rosto era levemente sardento e seus lábios bastante volumosos.
– Como assim com quem estou falando? Com a moça que vocês prenderam aqui também!
– Francisco… não há ninguém no quarto além de você. – protestou Krista.
– O quê?! Como não?! Tem uma cama ali! – esbravejou ele, apontando a escuridão. As mulheres se entreolhavam com ares de preocupação.
Krista adentrou o aposento empunhando uma luminária de metal. A chama viva clareou o ambiente, mostrando que além da confortável cama de Francisco, nada havia no cômodo. O canto de onde a prisioneira falava sequer possuía um leito.
– Não é possível! Tinha uma mulher aqui! – indignou-se Francisco.
– Francisco, por favor… venha conosco. – sugeriu Krista.
O homem aproveitou a luz do fogo para olhar em volta. Incrédulo, não conseguiu encontrar quaisquer indícios de alguma passagem nas paredes. Assustado e sem saber o que fazer, resolveu seguir suas recém-conhecidas anfitriãs.
Krista e Benedikta guiaram o rapaz por um estreito túnel de pedra. O teto era baixo e arqueado.
Conforme caminhavam, um sopro de ar fresco transcorria a pele e os cabelos de Francisco. Ao pisar para fora, ele constatou que de fato estava em uma praia. No horizonte, os tons de cinza do céu e do mar se tornavam um.
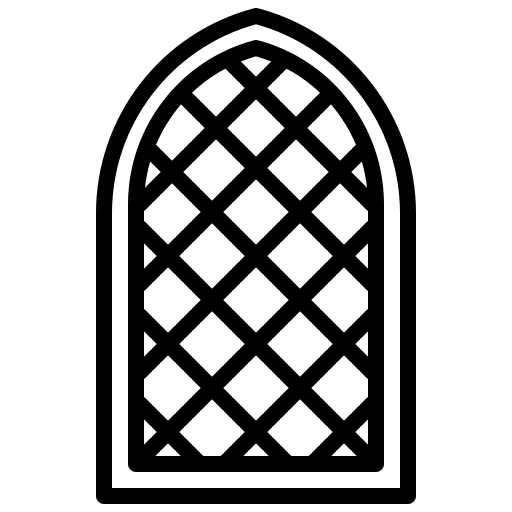
III.
Com os pés na areia fria, Francisco observava a vastidão do oceano cinza enquanto o último suspiro das ondas envolvia seus tornozelos. Sentia-se estranhamente sozinho, isolado. Era como se o lugar onde se encontrava não fizesse parte do mundo real. O sumiço da moça da cela e seu sequestro até o intrigavam, mas de uma maneira comedida. Lentamente, ele percebeu a aproximação de Krista.
– Gosta do mar? – perguntou a mulher.
– Gosto. A vastidão me fascina. Gostaria de poder caminhar sozinho sobre as águas sem temer tempestades, e explorar tudo o que há entre os continentes. Alcançar pequenas ilhotas perdidas ou até mesmo encontrar alguma coisa esquecida ou deixada por alguém, vagueando involuntariamente até sabe-se lá quando, e onde.
– Um desbravador, mas que gosta de calmaria.
– Eu definitivamente não faço sentido…
– Para além desta vista, a única certeza é a eternidade do nada.
Ele soltou um breve riso e disse:
– Bem, a pé eu acho que sim…
– Estas águas não levam a lugar algum.
– O quê quer dizer com isso?
– Ninguém chega por elas, e quando se vai, o único destino é a morte.
Ele a olhou levemente desconfiado e perguntou:
– Está me dizendo que ninguém entra no mar? Pra nadar, pescar ou…
– Ninguém. – interrompeu ela, de maneira seca.
– Usam apenas as estradas?
– Tampouco. – respondeu ela, com uma voz minguante.
– Então… como entram e saem? Onde estamos, exatamente? – questionou ele, visivelmente desconfiado. Seu coração acelerava lentamente.
– Ninguém entra; ou sai. – Krista frequentemente terminava frases em um tom de voz minguante, quase choroso.
– Espera aí! Então como é que eu vou embora?
– Ninguém que chegou aqui até hoje quis partir. – os lábios de Krista agora ostentavam um sorriso sereno, mas seu olhar era cinéreo e desesperançoso.
Francisco a observou, enquanto ela se retirava suspendendo o vestido acima do tornozelo a fim de evitar molhá-lo. Quando voltou seu olhar ao mar, ele parecia ainda mais infinito, adido ao céu.
Se vendo sem opções, Francisco pôs-se a caminhar atrás de Krista. Quando se aproximaram de Benedikta, ela disse:
– Venham. Vamos levá-lo aos outros.
– Outros? – perguntou Francisco.
– Sim.
– E quem são esses outros?
– Aqui são todos iguais. A nós. A você. Vai se sentir em casa.
Em silêncio, as mulheres guiavam Francisco por uma pequena estrada. Conforme deixavam o barulho das ondas para trás, mais altas ficavam as paredes naturais de pedra ladeando o caminho que se embrenhava terra adentro. Ao alcançarem o alto de uma pequena colina, tornaram-se visíveis ao longe silhuetas esverdeadas de árvores sob um céu que parecia mais azul, em contraste com a natureza sem vida de ar pesado por onde passavam. Francisco parou e observou a paisagem.
– Não se iluda. – disse Benedikta.
– Como é? – perguntou Francisco.
– Deixaste as cores para trás.
O olhar carrancudo de Benedikta deixava Francisco desconfortável e assustado. Ele preferia interagir com Krista.
Pouco mais de quarenta minutos de caminhada depois, adentraram uma mata fechada. Não se ouviam pássaros ou quaisquer outros animais; apenas um discreto sibilar do vento, que escorria por entre os galhos fazendo-os farfalhar. Abruptamente, as árvores cessaram, e Francisco se viu saindo da floresta em direção a uma extensa clareira. O longo descampado possuía a mesma grama borralhenta dos lugares de antes. Uma leve depressão no terreno levava a um pequeno agrupamento de casas quadradas de madeira escura.
– Então vocês… têm uma cidade? – perguntou Francisco ofegante a Krista e Benedikta, que guiavam o caminho com naturalidade.
– Um refúgio. – disse Benedikta.
Conforme se aproximavam, Francisco pode notar que algumas pessoas saíam das casas e formavam um pequeno grupo no que parecia ser o centro da vila. Todos vestiam branco.
– Olá! Muito bom dia! – cumprimentou Benedikta, voltando-se ao grupo de moradores.
– Bom dia! – responderam eles em uníssono.
– Este é Francisco. – disse ela a eles, apontando o homem recém-chegado, que observava tudo confuso.
Benedikta falava em alto e bom som, prostando seu corpo para frente enquanto abria levemente os braços, gesticulando como se fizesse uma pregação. Seus lábios ostentavam um sorriso iluminado, mas seus olhos possuíam um brilho suspeito, como se tentassem disfarçar opressão. Sua voz dizia coisas amigáveis, mas com um certo fundo de agressividade.
– Assim como desde o começo recebemos cada um daqueles que até aqui descem, peço que recebam e acolham Francisco.
Francisco acompanhava o pedido sem entender ao certo, mas observou que os ouvintes sorriam e absorviam aquilo como se estivessem hipnotizados. Seus olhares ostentavam compaixão.
Ao fim do discurso, a mulher se aproximou de Francisco, colocou a mão direita sobre seu peito com delicadeza e disse:
– Fique à vontade. Este lugar é seu. Tão seu… – ela mantinha o sorriso medonho.
O público se dispersou lentamente. Alguns conversavam entre si e outros se aproximaram de Francisco afim de cumprimentá-lo.
– Olá! Sou Linnéa. – disse uma jovem se aproximando. Seu cabelo castanho era liso e longo, alcançando sua cintura por cima das vestes brancas. Ela possuía sobrancelhas grossas e pálidos lábios finos que mal se destacavam de seu rosto redondo. Os olhos eram escuros.
– Ahn… olá. Eu sou Francisco. – respondeu o jovem estendendo a mão.
– Fico feliz que tenha se encontrado. – disse Linnéa. Sua voz parecia esconder um leve tremor.
– Bem, vocês não têm muita gente por aqui, não é? – questionou ele olhando em volta.
– Muitos nos procuram, mas poucos de fato acham.
– Acho que… entendi. – respondeu ele, olhando em volta, tentando avistar algo fora do comum.
A pequena vila possuía cerca de dez pequenas casas; suas paredes e tetos quadrados eram inexpressivos e frios. À esquerda de onde Francisco chegara, havia uma horta com frutas, verduras e legumes da região distribuídos de modo como se estampassem uma imensa bandeira no chão.
– Aceita um café? – perguntou Linnéa.
– Ah… claro, claro. – disse ele com o olhar inquieto.
Eles caminhavam lentamente, de forma casual, enquanto Francisco bebia uma caneca de café que parecia não ter gosto.
– Tenho certeza que vai se sentir confortável aqui. – disse ela.
– Eu imagino que sim. – concordou Francisco. Embora ainda hesitante, ele havia gostado das pessoas com quem interagiu. A estranha sensação de pesar eterno exalada pelos moradores era de alguma maneira acolhedora.
– E o que você fazia antes de vir pra cá? – perguntou Linnéa sugerindo que se sentassem na grama.
– Bem, eu moro perto daqui e…
– Não, antes. – interrompeu ela.
– Antes? Antes quanto? – questionou ele sem entender.
– Eu era pianista. – contou ela, acomodando-se no chão.
– Poxa, sério? Isso é legal. Eu… eu fui pintor, durante um tempo.
– Pintor? Entendi. E por que parou?
– Digamos que… eu não levava jeito de verdade. E o piano? Você não toca mais?
– Não, não mais. – disse ela mexendo os pés descalços na grama, lançando o olhar ao longe.
– E por quê?
– Minha mãe também era pianista. O lado dela da família sempre foi de músicos, sabe? Ela fez doutorado fora do país e tudo mais. Ficou extremamente feliz quando meu irmão decidiu começar a tocar também. Na época ele tinha seis e escolheu o violoncelo. Influenciada por ele, talvez, pedi para começar a tocar piano quando fiz doze anos.
– Aposto que sua mãe gostou mais da sua escolha…
– Pelo contrário. Segundo ela, eu era velha demais. Ela ajudava muito meu irmão, sempre com muita paciência; mas quando era comigo, me xingava, batia…
– Isso é… me perdoe por dizer isso assim, mas; assustador. Ela era muito perfeccionista?
– Não só isso. Conforme cresci, fui abandonando aquele mundo erudito dela, sabe? Comecei a ouvir jazz, queria ser como Bill Evans. Segundo ela, nem música isso era. Não me entenda mal, não são todos os músicos que são assim, mas…
– Ah, não. Eu entendo… – disse Francisco.
– Me lembro claramente, anos mais tarde, quando consegui uma vaga para acompanhar uma cantora em uma turnê nos Estados Unidos. Fui para casa completamente radiante. Ela estava na sala de estudos auxiliando meu irmão e eu cheguei muito animada com a notícia; quando contei, toda a doçura com a qual ela ajudava meu irmão se desfez. Ela parecia possuída. Me bateu com o arco do violoncelo do meu irmão e tentou quebrar meus dedos com um martelo.
– Minha Nossa… – intercedeu Francisco, incrédulo.
– Eu não conseguia entender o porquê de tanta reprovação. Sempre me esforcei, consegui resultados, elogios, recomendações de várias pessoas; mas para ela nada servia. Nunca, nada do que eu trazia ou conquistava era bom. Nunca ganhei uma felicitação sequer da minha mãe, um sorriso, nada. Eu só queria fazer parte daquele universo dela, sabe? Só queria ter a mesma mãe que meu irmão tinha…
– E depois deste dia você não tocou mais?
– Não. Saí de casa naquele mesmo momento e nunca mais voltei, tampouco botei as mãos em um piano de novo.
– Eu… sinto muito.
– Não, tudo bem. É curioso… pois mesmo que eu tenha transformado meu maior sonho nesse… pesadelo, fantasma…. ou monstro, não sei, como se eu o guardasse em um quarto isolado da minha casa, eu vivo em paz.
– Feliz? – questionou Francisco atento ao olhar vazio e distante de Linnéa.
– Em paz.
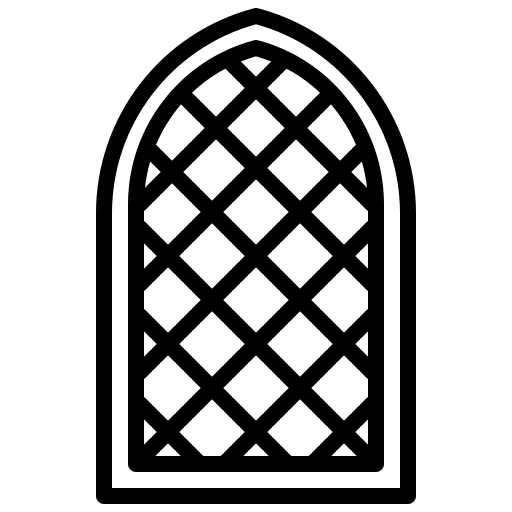
IV.
O sol começava a se recolher quando Linnéa entrou em sua casa arrastando delicadamente a porta pela maçaneta com as pontas dos dedos. As paredes brancas da pequena sala de estar eram levemente afetadas pelo tempo; e os móveis de madeira ambientavam o aposento pelo menos dois séculos atrás.
Ela se sentou sobre o sofá verde, dobrando as pernas lateralmente e ficou em silêncio.
Contemplava o branco das paredes quando pensou ter ouvido algo no cômodo adjacente. A porta do quarto abandonado parecia lhe observar.
Ela respirou fundo e lançou os olhos ao lado oposto. Seus lábios começaram a tremer discretamente. Vozes surgiram em sua mente à medida que sua respiração acelerava. Linnéa sentia o coração esmurraçar o peito e por vezes lançava olhares fugazes à porta.
– Não… – disse ela em voz baixa limpando as mãos suadas no vestido.
A porta crescia convidativa, aliciadora. Ao mesmo tempo que assustava, atraía. O arquejo golpeva o estômago de Linnéa cada vez mais forte.
– Não…não… não! – exclamou ela – Eu não posso… eu estou bem assim!
Linnéa se levantou e se dirigiu à cozinha, abrindo as portas dos armários superiores e remexendo os mantimentos a esmo, derrubando potes sobre a pia. Suas mãos tremiam e ela não conseguia mais ficar parada. Andava de um lado para o outro na cozinha. Berravam dentro de sua cabeça. Todos ao mesmo tempo.
A porta chamava por ela. Linnéa apanhou um copo sobre a pia, ligou a torneira e o encheu de água. Bebeu metade do conteúdo com pressa e engasgou, tossindo violentamente enquanto entornava a outra metade do líquido no ralo, limpando a boca com as costas da mão e atirando o copo longe. Tornou-se impossível não olhar; era como uma cena de filme de terror que assustava e enojava, mas de alguma maneira bizarra, cativava.
Ela respirava fundo, silenciando o desespero como podia; até que a porta se abriu lentamente, rangendo um convite irrecusável. Ao clique do trinco, todos os gritos sumiram e o silêncio se fez novamente. Lá de dentro, ouviam-se conversas abafadas, como se o público a esperasse.
Linnéa caminhou na direção do quarto. As trevas lá de dentro emanavam um confortável ar frio. Seus pés descalços deslizaram pelo assoalho até o interior do pequeno aposento. Ela se sentou sobre a banqueta adornada frente a uma penteadeira parcialmente iluminada pela luz da sala. Em silêncio, Linnéa se olhou no espelho, mergulhando no vazio do próprio olhar. Seu vestido branco comprido e parcialmente desabotoado valorizava os proeminentes ossos da clavícula.
Perdida numa falta de pensamentos que lentamente se transfigurariam em más lembranças e esperanças vencidas, ouviu uma voz distante, que cantarolava a mesma melodia pesarosa em noites de mau presságio.
As pontas de seus dedos correram sobre o tampo do móvel e calmamente começaram a acompanhar o canto como se tocassem um piano imaginário nas irregularidades da madeira. Seu dedilhado era gracioso e preciso.
Linnéa não tirava os olhos de si mesma enquanto tocava. Sua respiração se embargou e seus olhos marejaram. Um ponto vermelho se avolumou no canto de seu olho direito e desceu traçando um caminho acidentado em seu rosto. Ela piscava devagar. Sua respiração era trêmula.
A cada nota que seu piano imaginário projetava, mais ela se sentia em casa, num palco, tocando.
Seus lábios começaram a tremer e ela os mordia, tentando se controlar. Quando não aguentou mais, junto do primeiro suspiro, sangue verteu de sua boca sujando seu piano e roupa com gotas desarmoniosas.
Pouco a pouco, a melodia crescia em intensidade e lamento. Entregue a um choro contido, Linnéa cuspiu primeiro um dente, depois dois. Suas unhas descolavam de seus dedos e ficavam pelo caminho melado de sangue sem que seus dedos parassem de tocar. As lágrimas vermelhas agora eram encorpadas e desciam aos montes.
Ela chorava e tocava.
Seus cabelos caíam.
Um espesso e potente jato de sangue voou de sua boca e acertou o espelho, lavando seu reflexo horrendo. A ensopada cortina carminada foi a última coisa que viu antes de sentir seus olhos escorrerem para fora de suas órbitas. Agora apenas ouvia e tocava. Era uma só com a melodia.
Seu corpo destruído bamboleava sobre a banqueta. Agora ela ria ao mesmo tempo que chorava, até que sua espinha falhou, e não mais suportando o corpo, se partiu sonoramente enquanto suas vísceras se espalharam pelo chão sob uma salva de aplausos.
Era o fim de Linnéa.
Em algum lugar, ela sorria.
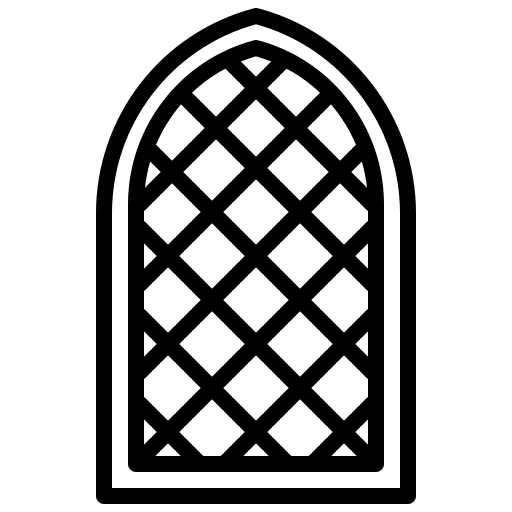
V.
Francisco saiu da casa que lhe fora designada se sentindo descansado. A manhã continuava cinzenta, mas a temperatura era agradável. Ao longe, ouvia sons de trabalho na lavoura.
– Bom dia! – disse uma mulher de meia-idade se aproximando. Trajando um vestido branco similar aos das outras moradoras. Ela carregava um cesto de pães frescos, tinha baixa estatura e possuía um longo cabelo escuro preso numa trança trabalhada.
– Bom dia. – disse Francisco, assentindo com a cabeça.
– Toma café conosco? Acabamos de tirar estes pães do forno.
– Ahn… claro. – respondeu ele.
– Ótimo! Pode vir comigo. – falou ela, andando rápido. Francisco se limitou a segui-la em silêncio.
No centro do círculo formado pelas pequenas casas, havia uma enorme mesa comprida de madeira adornada por uma toalha branca. Todos os moradores do local se encontravam ali conversando enquanto comiam.
– Francisco veio comer conosco. – anunciou a mulher, sugerindo um lugar vazio ao novo morador que timidamente se acomodou entre dois veteranos.
– Bom dia. – disse ele aos dois, que responderam com cordialidade.
– Dormiu bem? Gostou da casa? – perguntou um deles partindo um dos pães frescos que acabara de chegar.
– Bem, sim, sim. É engraçado, parece que já estou aqui há muito tempo. – contou Francisco.
– Ótimo. – respondeu o morador.
– Eu tive a impressão de ouvir alguém… cantando. À noite, logo que o sol se pôs. Era alguém que vocês conhecem?
Os dos moradores se endireitaram na cadeira e respiraram fundo parecendo incomodados com a pergunta.
– Não! Não ouvi nada. – disse um deles
Francisco estranhou a reação exagerada do homem. Pensou um pouco, olhou ao redor e perguntou:
– E Linnéa? Onde está? Ela não toma café conosco?
– Linnéa… resolveu partir. – disse Benedikta surgindo ao lado de Francisco, que se assustou.
– Nossa! Eu… não tinha te visto aí.
Benedikta apenas assentiu, e então falou:
– Não siga os passos da garota. – instruiu Benedikta em um tom de voz soturno olhando em direção à vila.
– Não seguir os passos? Como assim? Ir embora? – perguntou ele.
– Não se entregue. – disse ela em pé ao lado da mesa, trajando o mesmo vestido preto de antes. O pano esvoaçava, criando pontas no ar que se pareciam com tentáculos, tornando a imagem da mulher ameaçadora. – Não caia em tentações, não se canse à toa. Não vale a pena. Dispa-se destes caprichos e agradeça pelo o que a vida lhe deu.
Um peso estranho se formava no coração de Francisco, que disse:
– Eu acho que… acho que quero voltar para o meu quarto.
– Como quiser. – concordou Benedikta, imóvel, acompanhando Francisco apenas com os olhos. Ele se levantou da mesa e começou a caminhar de volta para a casa onde havia passado a noite.
Já perto de seu chalé, Francisco ouviu dois jovens conversando:
– Então você também ouviu? – perguntou um deles.
– Sim, foi no começo da noite, logo que o sol se pôs; como sempre. É tão belo… e triste; mas ao mesmo tempo me dá um senso de esperança.
Sem conseguir vê-los, Francisco se recostou na parede de uma das casas, escutando com atenção.
– Eu acho que a Linnéa foi atrás. – prosseguiu um deles.
– Por quê?
– Ela sumiu.
– Mais uma?
– Sim, mais uma.
– Meu Deus… você foi até a casa dela?
– Não tive coragem. Vi Benedikta por lá logo que o dia amanheceu.
– Ela não apareceria por lá sem motivo…
– Eu também acho que não. Você… teria coragem de ir até lá comigo pra ver que merda aconteceu?
– Olha, honestamente… eu não sei.
Francisco se lembrava vagamente da casa de onde havia visto Linnéa saindo ao chegar na vila com Benedikta e Krista, então resolveu procurar pela residência a fim de entender o que poderia ter acontecido com a jovem.
Não demorou muito para que Francisco localizasse a casa de Linnéa. Embora de longe nada parecesse anormal, o rapaz hesitou em se aproximar, medindo cada passo que dava na grama, sempre observando os arredores com cautela.
Já na porta, tentou espiar através da janela mas teve sua visão obstruída por uma cortina cinza. Ele apoiou as costas na porta e com a mão direita girou a maçaneta, que abriu. Cuidadosamente, Francisco empurrou a porta olhando para dentro. Um sutil cheiro de sangue o fez retrair o lábio superior e franzir o nariz.
A casa parecia intocada, escura. Era possível ver as partículas de poeira planando lentamente dentro dos pequenos feixes de luz que vinham da janela. Sem observar nada de estranho na cozinha ou sala de estar, uma porta fechada à esquerda da entrada lhe chamou a atenção. Francisco caminhou lentamente até ela, parando e respirando fundo a cada rangida que o chão de madeira emitia.
A maçaneta atendeu prontamente o toque de Francisco e emitiu um clique quando se abriu. Concentrado nos passos que dava para dentro do aposento, buscando e temendo quaisquer movimentos na escuridão, o rapaz não percebeu Krista postada em um dos cantos, imóvel.
– Tem sorte de que Benedikta já foi. – disse ela, assustando Francisco, que deu um tropeção na direção oposta.
– Mas que porra! Por que está escondida aí assim?! – exclamou ele.
– Por que invadiu a casa dela assim? – questionou ela.
– Eu… eu percebi que Linnéa não apareceu para o café, e já que todos estão lá, juntos, imaginei que ela deveria estar também.
– Deveria, talvez. Mas ela não está mais entre nós.
– Por que merda vocês falam tudo como se fosse a porra de um… de um oráculo ou algo assim? Como assim “ela não está mais entre nós”? Ela foi embora? Ela morreu? O que houve?
Krista acendeu a lamparina que carregava nas mãos.
Francisco olhou em volta e se viu sentado em uma poça de sangue seco entremeado na madeira.
– Mas… que merda é essa?! – esbravejou ele, se levantando prontamente.
– Linnéa sucumbiu aos lamentos da Madame Hoppas.
– Quem?!
– Eu sei que você a ouve, Francisco. À noite.
O rapaz fez uma breve pausa e disse:
– E pelo visto não é coisa da minha cabeça…
– Não, não é. – disse Krista ostentando seu característico olhar lamentoso.
– Mas quem é essa tal Madame Hoppas? como ela pode ter feito… ISSO?! – questionou o rapaz, apontando a grotesca pintura coagulada no chão.
– Francisco – disse Krista se ajoelhando ao lado do rapaz -, não é simples abandonar tudo e vir pra cá. Os primeiros dias são os mais difíceis, mas conforme sua existência segue, tudo aquilo que poderia ter sido se torna apenas um eco. Tocar ou não a ferida é uma escolha sua, e a dor é opcional. A desambição é um lugar seguro. Respire, sinta a calma. Esqueça o canto. Ela só quer te chamar de volta para o martírio.
– Isso não é calma, é apatia, indiferença! Foi Benedikta quem fez isso com Linnéa, eu tenho certeza! Vocês querem nos prender aqui e eu nem sei o porquê! Irei conhecer Madame Hoppas hoje à noite. – falou Francisco.
– Não o faça. Vai acabar como Linnéa. – alertou Krista.
– Eu não quero ficar aqui! Chega! Eu vou embora!
– Não há nada além da clareira, Francisco! Apenas morte! Nós estamos tentando te proteger! – esbravejou Krista, aos prantos.
– Além de qualquer lugar tem morte pra vocês!
– Não pense que isso não dói em mim…
– Se dói tanto como diz, por que não me deixa ir até ela?
– Eu mais do que ninguém gostaria que você fosse, Francisco… mas você pode não sair deste encontro com vida…
– Então que eu morra! Mas tentando! – gritou ele.
– Não! Não faça isso! Não faça! – ela tentou agarrá-lo pelos braços.
– Segurei o canto dela! Esta noite! – atestou ele, se desvencilhando de Krista, que de joelhos, apoiou as mãos no chão e se curvou chorando enquanto ele se retirava.
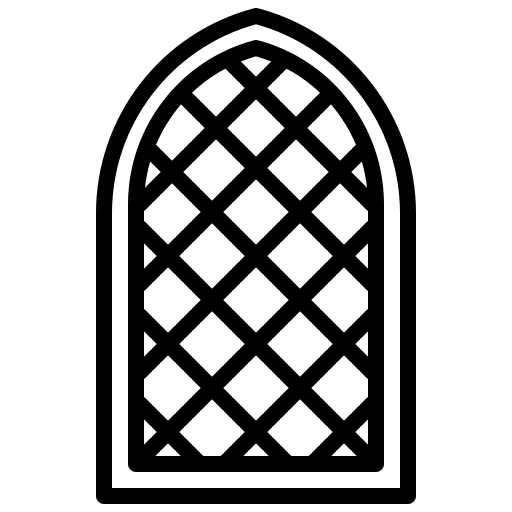
VI.
Já era meia-noite quando Francisco foi até a janela da sala pela terceira vez. Ele afastou a cortina e encostou a testa no vidro frio, olhando para fora. Um rarefeito sopro gelado entrava pelas frestas e tocava seu rosto. A inatividade da noite o fez lembrar de quando acordava de madrugada, ainda criança, e ficava próximo à janela da sala observando a pequena cidade do interior de São Paulo, fascinado pelo silêncio. Naquela mesma posição, gastava folhas e mais folhas de caderno, insatisfeito com as tentativas de reproduzir a modesta paisagem urbana. Por mais que seu pai elogiasse suas obras, o monte de papéis amassados em volta de seus pés só crescia.
Qual é o ponto da vida onde desistimos de nossos sonhos?
Na verdade, a pergunta mais importante talvez seja “Quando nascem os sonhos?”. Crianças não têm sonhos propriamente ditos. Seus objetivos lhes são tangíveis, e não pautas de um devaneio. Elas apenas fazem o que gostam e se empenham, se envolvem. Se ela quer chegar à Marte em um foguete de papelão, ela chega. Se quer ser campeã de Formula 1 fazendo de um livro o volante, ela é; e se quer pintar grandes e belos quadros, ela pinta. Em algum momento, quando aprendem qual é o papel que move o mundo, as ambições se tornam extravagâncias, e é aí que muitas almas morrem e o mundo empobrece.
Francisco continuava envolto na névoa densa de seus quesitonamentos, perambulando pela casa. Ao adentrar o quarto anexo à sala de estar, viu uma tela branca sobre um cavalete de madeira. Ao lado, uma paleta nova em folha e uma grande variedade de tintas pareciam lhe convidar. A passos cuidadosos, o homem se aproximou, tomando a paleta em sua mão esquerda. Escolheu um pincel com os olhos e o sacou da caixa. Lentamente, se sentia um só com a brancura da tela, correndo o pincel seco no tecido.
De repente, sentiu gosto de sangue na boca. Ele untou as cerdas do pincel esfregando-o na própria língua e começou a pintar, devagar. A cada pincelada, uma nova ideia parecia tomar forma. O gosto de sangue aumentava e o líquido vertia de seus lábios.
Na tela, visualizou um auto-retrato. Com poucos traços, Francisco encarou a si mesmo. Parecia feliz, confiante, e acima de tudo, realizado. O homem da imagem não parecia carecer de títulos, ele era quem queria ser. O coração de Francisco se encheu de uma inspiração que há muito tempo ele não sentia, e foi quando ele caiu em si.
Madame Hoppas já cantava. Francisco se assustou, sentiu como se algo explodisse dentro de seu estômago. Seu coração acelerou e ele percebeu onde estava. Arremessou o pincel longe. Respirando rápido, ele limpou o sangue da boca com as costas da mão e se dirigiu até a porta, decidido.
Lá fora, a lua iluminava a vila com seu reflexo prateado. Nada se ouvia além do canto. Francisco fechou os olhos e se concentrou em localizar a origem do som, andando em sua direção. A voz o convidava para um caminho que se embrenhava por entre árvores sobre um aclive. Enquanto caminhava por entre os troncos, Francisco pôde perceber uma luminosidade branca suave vinda do meio da floresta.
Sem pensar duas vezes, se esgueirou rapidamente por entre as árvores buscando a origem da luz. Conforme prosseguia, o rapaz foi dominado por uma pressa inexplicável que obrigou a correr mais e mais rápido. Ofegante, esbarrava e tropeçava, sem deixar de avançar. Repentinamente, um inexplicável zumbido atingiu seus ouvidos, ficando cada vez mais alto e acompanhado de uma dor de cabeça lancinante. Era como se diversas facas fossem cravadas contra sua cabeça, serrando o crânio e rasgando o cérebro. O suor ardia em seus olhos e seu nariz escorria. Quando sentiu sua visão começar a escurecer auspiciando um iminente desmaio, Francisco tropeçou, batendo o rosto na grama. Todos os sons cessaram.
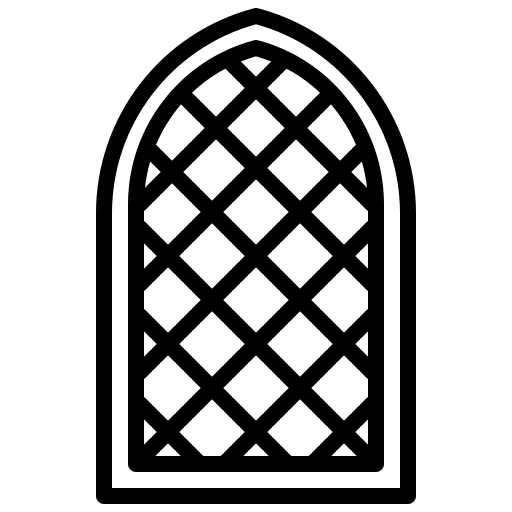
VII.
Francisco abriu os olhos devagar, com calma, até que se lembrou de onde estava e se pôs sentado rapidamente, olhando em volta.
A noite continuava escura e silenciosa, e poucos metros a sua frente, uma mulher de aparência frágil sentava sobre um trono alto.
As bases irregulares da cadeira eclodiam do solo como grossos galhos de árvores empenadas. Rostos desfigurados carregados de tristeza e mãos torcidas feitas de ramos seco subdividiam-se em vários tamanhos e formas apontando em diferentes direções. Dos olhos de cada cenho miserável, vertiam lágrimas de sangue. A horrenda poltrona parecia viva, pulsante, como se tentasse se afastar de quem repousava sobre ela. No topo das cabeças, derretiam velas brancas de diferentes tamanhos que desfaziam papeis amassados e rasgados em brasas pequenas.
Ocupando o assento, com as pernas pálidas cruzadas sob o vestido branco rasgado, acomodava-se uma figura feminina de olhos e boca costurados. O tom de sua pele se assemelhava ao de um cadáver, e sua silhueta emanava uma fumaça fria.
Ajoelhado na grama, Francisco encarava a mulher em silêncio enquanto um sentimento doloroso de perda preenchia seu coração.
Com dificuldade, a mulher abriu levemente os braços desfazendo as costuras agoniantes. Ela se rasgava ao se desprender do trono e sua mão tremia conforme os filetes de pele esticavam antes de se romper.
Francisco andou devagar em sua direção, sentindo seus pés tocarem a grama com uma leveza inexplicável. Quando subiu o segundo degrau da estrutura macabra e estava prestes a alcançar a mão da mulher pronto para se entregar, sentiu alguém agarrando seu outro braço. Quando olhou para trás assustado, percebeu se tratar de sua companheira de cela. Sua pele era de um branco intenso, levemente azulado. Suas maçãs do rosto eram pronunciadas e manchadas de um tom rosado. Ela não possuia sobrancelhas e seus olhos eram enormes e brilhantes. O longo cabelo branco lhe envolvia como um véu.
Era como se o tempo tivesse parado. Francisco tentava gritar, mas não conseguia.
A misteriosa mulher da cela olhava Francisco fixamente nos olhos quando começou a cantar a melodia que o havia guiado até aqui. Enquanto proferia sua música lamentosa, levou a outra mão ao peito agarrando a própria pele, e num movimento de torção, rasgou sua carne. De dentro de si, tirou algo que se assemelhava a um antigo pincel adornado feito de bronze, ofertando-o a Francisco. O rapaz via o sangue jorrar no ar em uma grande erupção vermelha. Ao passo que agarrou a ferramenta, sentiu sua mão se enxarcar com o sangue da mulher. Quando se voltou novamente à figura do trono, sua única ação foi fincar o pincel em seu peito, como se fosse comandado por uma espécie de hipnose. Imediatamente após a ponta do pincel dilacerar a pele morta, uma grande quantidade de sangue vermelho intenso o atingiu, pintando sua túnica branca e encharcando seu rosto com um cinábrio vivo.
A figura do trono pôs-se a tremer. Seus lábios se partiram ao se livrar das amarras derramando o mesmo sangue brilhante. Um grave e assustador urro gutural de dor saiu de sua garganta. Foi possível lhe ouvir engasgando com sangue antes que mais do líquido golfasse de sua boca.
Embaixo do chafariz vermelho, Francisco fechou os olhos e se deixou ensopar. Lentamente ele sorriu, abrindo os braços e levantando o rosto. O rapaz levou as mãos à face, espalhando o sangue sobre a pele e deixando que ele invadisse sua boca como se tivesse acabado de descobrir uma fonte de água gelada num deserto infinito.
Ao abrir os olhos novamente e se virar para trás, o rapaz viu sua companheira de cela ajoelhada sobre a grama próxima do primeiro degrau do trono. Seu peito continuava aberto. Era possível ver seu coração batendo, bombeando sangue para fora. Sua boca estava semiaberta e olhos enormes continuavam fixos nele. Lentamente, Francisco se perdeu no olhar dela, sentindo-se novamente paralizado. Uma felicidade inexplicável o inundou, fazendo com que as maçãs de seu rosto tremessem e seus olhos se enchessem de lágrimas. O silêncio dava lugar a uma música grandiosa.
Lentamente, sua visão se embranqueceu, como se fosse tomado por uma nuvem de luz.
Silêncio.
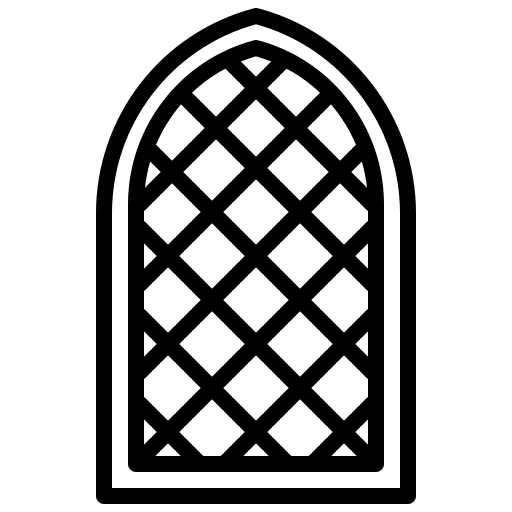
VIII.
O chiado do mar o envolveu, conduzindo Francisco de volta. Quando um resto de onda atingiu sua nuca e invadiu seu ouvido esquerdo, ele acordou assustado. Sua pele ardia do sol. Ele se sentou na areia da praia, ensopado pela maré e tapou os olhos com o braço direito. Enquanto tentava entender onde estava, ouviu conversas ao redor.
Conforme sua visão se adaptava à claridade, observou uma família alguns metros adiante. O pai e a mãe, sentados em cadeiras de praia, admiravam a nova tentativa da filha de erguer um castelo de areia no centro de um círculo de brinquedos. Gritos e risadas atraíram a atenção de Francisco para o outro lado, onde um grupo jogava vôlei.
O mar brilhava num azul intenso. O sol quente iluminava a areia branca sobre a qual pessoas transitavam vestindo trajes de banho coloridos.
Francisco olhou para baixo em busca das manchas do sangue no qual havia se banhado, mas sua roupa estava tão limpa quanto o ar que ele respirava. Lentamente, o rapaz se pôs de pé. Sentia seu corpo leve, uma vontade estranha e esquecida de sorrir. Ao olhar para o lado oposto à água, viu a grama verde alta dançar com o vento próxima a uma parede de pedras. Logo acima dela, carros se cruzavam na rua e casas coloridas compunham o ambiente. Sobre os piers, mesas de madeira acomodavam mais pessoas que comiam, bebiam, ou simplesmente conversavam.
A vida lhe pareceu bela como há tempos não fazia. Ele era, enfim, capaz de visualizar suas pinceladas novamente.